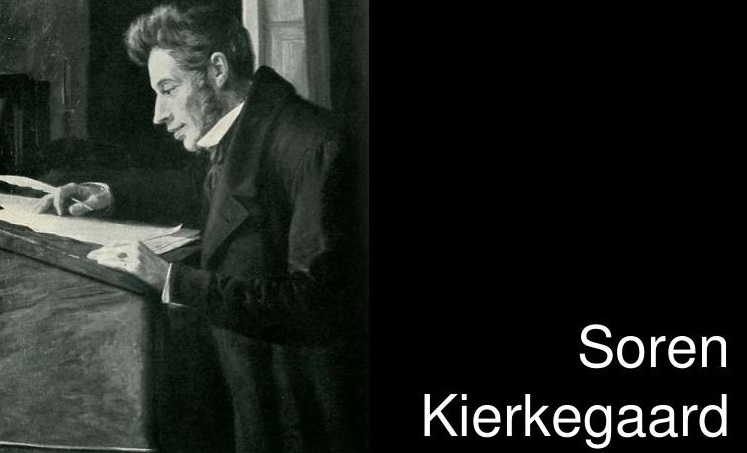Atualmente, a separação entre o ser adulto e o ser criança parece tão normal para todos nós, mas nem sempre foi assim. As transformações da sociedade, cultura e economia foram fundamentais para esta divisão. Segundo Ariès (1981), o sentimento de infância que se aproxima mais da modernidade se deu a partir do século XVIII, onde houve uma segmentação do mundo adulto com o da criança. Até então, na família medieval, a infância não tinha um foco significativo. As crianças eram consideradas como miniadultos, o que é possível ver na forma de representá-las nas artes da época. Na sociedade medieval, o público e o privado fundiam-se nas relações familiares, no trabalho, nas relações sociais. As brincadeiras não eram distintas, mas comum aos dois mundos. Não havia espaços destinados às crianças, assim, logo que desmamadas, eram inseridas nos afazeres do dia a dia dos adultos, ou seja, não havia clareza quanto aos espaços e papeis de cada um.
 Fonte: https://reproarte.com/images/stories/virtuemart/product/bruegel_pieter_d_a/0233-0114_bauerntanz.jpg
Fonte: https://reproarte.com/images/stories/virtuemart/product/bruegel_pieter_d_a/0233-0114_bauerntanz.jpg
Partimos de um mundo de representações onde a infância é desconhecida: os historiadores da literatura (Mgr. Calvé) fizeram a mesma observação a propósito da epopeia, em que crianças-prodígio se conduziam com bravura e a força física dos guerreiros adultos. Isso sem dúvida significa que os homens dos séculos X-XI não se detinham diante da imagem da infância, que esta não tinha interesse, nem mesmo realidade (Ariès, 1981, p.52).
Já na família nuclear, a preocupação com a criança era mais de cunho econômico. Mesmo com o surgimento do “sentimento de infância”, este era direcionado para a qualidade de mão de obra que emergiria desta família.
Paralelamente, a criança adquire um novo valor e importância; percebe-se que ela é, potencialmente, riqueza econômica – o trabalhador do futuro. A partir daí, surge a necessidade de cuidar mais dessa criança e principalmente, de educá-la. Assim, precisa ser alvo de todo cuidado e atenção na medida em que ela é vista como tesouro das nações em formação. (Aguiar, 2005,p.27).
Neste momento, com aquisição deste novo olhar, agora seria possível ver a diferença entre ser adulto e o ser criança. E esta pode ser vista mais frágil, dependente e inocente e com uma afetividade peculiar, típico da infância. Com isso, surge a educação formal, o sentimento materno, maiores cuidados com a higiene e a separação dos espaços, que antes eram comuns aos dois universos. Nascem então, a Pediatria, a Pedagogia e a Psicologia, ciências que auxiliariam no zelo deste ser, agora em foco.
Em 1990, no Brasil, se consolida os direitos das crianças através da criação do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), concedendo direitos a estas à educação, segurança, lazer e saúde.
A Diversidade de Olhares Sob o Ato do Brincar
Quando se pensa em crianças, logo vem à lembrança momentos da infância e, consequentemente, a diversidade de brincadeiras que circundam tal mundo. Porém, o brincar nem sempre foi visto como algo pedagógico e muito menos terapêutico. O olhar para as atividades infantis foi encarado com maior relevância, ou seja, como algo benéfico a partir de uma experiência de Freud ao observar uma criança.
Freud, em busca da etiologia para as neuroses, descobre que a origem dos adoecimentos psíquicos era gerada na infância. Segundo Aguiar (2005), Freud evidencia a importância da infância para a construção da personalidade e identificação das patologias. Foi com o caso Hans, onde ele aconselhava um pai em relação aos cuidados com o filho, que Freud pode observar a influência do adulto no comportamento da criança. Mesmo sabendo da influência de seu discurso no agir desta, esse pai não mudou completamente suas atitudes, porém esta observação possibilitou Freud a visualizar que havia benefício terapêutico em tal prática, como pode ser constatado na visão de Aguiar
descobrir que elas eram afetadas pelo que os adultos diziam ou faziam não fez que estes mudassem totalmente seu comportamento com relação à criança, porém legitimou a possibilidade de determinado adulto, o psicoterapeuta, agir e falar de modo específico com ela afim de que isso trouxesse algum benefício terapêutico. A forma que esse agir e falar adquiriu ao longo do desenvolvimento da psicoterapia infantil é congruente com as perspectivas de ser humano e de funcionamento não saudável, próprias de cada abordagem (AGUIAR, 2005, p.29 ).
Em outra observação de Freud, em uma brincadeira de carretel com uma criança, ele viu, segundo Luciana Aguiar (2005), o brincar como representação e elaboração de frustrações e conflitos. Para Anna Freud (1971) apud Aguiar (2005) o ato de brincar tinha como função apenas a criação de um forte vínculo entre a criança e o psicoterapeuta, ou seja, era apenas estabelecer o rapport- que significa relação de harmonia em um processo comunicativo, no qual a pessoa fica mais receptiva à interação.
Melanie Klein (1981) foi a primeira a sistematizar o trabalho clínico com criança e viu no brincar uma linguagem não verbal que possibilitaria esta a se expressar desde muito pequena. Ao utilizar o brincar como um substituto da verbalização, visto que as crianças podiam se beneficiar da interpretação, percebeu que não era possível conduzir a sessão terapêutica como a de um adulto deitando-as no divã e conduzindo-as à associação livre , Klein concluiu que a linguagem predominante da criança é a linguagem do brinquedo e era sobre essa perspectiva que a interpretação deveria acontecer (AGUIAR, 2005).
Partindo dos pressupostos da psicanálise infantil kleiniana, Donald Winnicott estudando tal relação terapêutica desenvolveu a importante teoria do brincar, expandindo a compreensão da função do brinquedo no desenvolvimento infantil e introduziu a noção de espaço transicional, termo essencial para a compreensão do processo de diferenciação da criança com o adulto bem como dos recursos que ela utiliza para tal, ele distingue o espaço terapêutico como sendo unicamente do brincar e sugere que o terapeuta deve ir ao encontro do brincar da criança, tornando-se ativo e engajado não só na análise, mas também na relação paciente-analista, valorizando o contato entre ambos. (AGUIAR, 2005).
[…] Winnicott propõe uma vivência da experiência clínica ao lado da criança e critica os terapeutas que nunca sentaram no chão para acompanhá-la no atendimento, por exemplo, (OUTEIRAL, 2010; NEWMAN, 2003a). Para ele, o brincar possibilita a construção e vivência do espaço transicional, ou seja, intersubjetivo. Além de ser um meio de comunicação, tal gesto estaria inserido no contexto psicoterapêutico, pois auxilia a constituição e fortalecimento do self, caracterizando o viver criativo (LEHMAN, 2012; FRANCHIN et al, 2006). (CARNEIRO, SILVA, 2013, p.343)
 Fonte: http://www.cuiaba.mt.gov.br/upload/imagens/20121011173656.jpg
Fonte: http://www.cuiaba.mt.gov.br/upload/imagens/20121011173656.jpg
Já Para Virginia Axline (1972), a ludoterapia pode ser guiada de forma diretiva, ou seja, pelo psicoterapeuta, e não diretiva. No caso, não diretivo a terapia é conduzida pela criança, por meio do brincar, oportunizando a esta a expressão de seus sentimentos e suas angústias. A autora define ainda que o jogo é o ambiente espontâneo de auto expressão da criança, onde se torna possível que esta cresça em melhores condições, pois nesse ambiente ela tem a possibilidade de manifestar seus sentimentos mais comuns, frustração, insegurança, agressividade, medo entre outros, e o fato de ela poder se expressar proporciona a tomada de consciência, o esclarecimento e enfrentamento da situação conflitiva.
Demonstrando a importância do brincar para elaboração dos conflitos e promoção de saúde, (SOUZA, MITRE, 2009, p.4, apud CARNEIRO, SILVA, 2013, p.345), relata a experiência hospitalar com crianças
certa tarde, atendemos outro menino de 5 anos. Ele estava restrito ao leito por conta de um acesso profundo na virilha. Tendo que usar luvas de gaze para impedir que tirasse o acesso, estava, portanto, com a movimentação ainda mais limitada. Além disso, estava em dieta zero há cerca de dois dias. Quando nos aproximamos dele, começou a chorar sinalizando que estava com fome, e que não queria brincar com nenhum dos brinquedos que tínhamos levado. Propusemos, então, brincar de comidinha de faz-de-conta. Ele aceitou. Preparávamos a comida, perguntávamos se ele gostava, se ele queria provar, e a levávamos até a sua boca. Depois de um tempo, ele sinalizou que já tinha comido muito e queria dormir. Com a brincadeira ele conseguiu expressar sua necessidade, elaborar de alguma forma aquela situação desprazerosa e relaxar.
 Fonte:http://www.nossagente.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/sua_saude_sandra3.jpg
Fonte:http://www.nossagente.net/wordpress/wp-content/uploads/2015/02/sua_saude_sandra3.jpg
Segundo Luciana Aguiar (2005), a inserção do psicoterapeuta no espaço lúdico da criança é de fundamental importância para a realização das possíveis intervenções. Muitas vezes, ele precisará mediar algo durante a brincadeira, utilizando a linguagem lúdica da criança. Isso nos remete a outro ponto importante: a disponibilidade para brincar. Embora algumas crianças prefiram não envolvê-lo em suas brincadeiras, fazendo com que ele seja um mero observador, verificou-se que a maior parte delas precisa da interação do psicoterapeuta.
brincar com a criança não é tornar-se criança no espaço terapêutico. Brincar com a criança não é reagir como se fosse uma criança. Brincar com a criança é poder compartilhar da importância e da magia daquela linguagem sem perder de vista a tarefa terapêutica. ( AGUIAR, 2005, p.198.)
Melanie Klein (1964) apresenta o brincar como a personificação da criança não apenas de seu ego, mas também de conteúdos do Id e do Superego, distribuídos pelos diversos personagens pertencentes ao enredo de uma brincadeira. Esta personificação pode ocorrer de diversas maneiras com o uso de objetos inanimados como carrinhos, animais e bonecos entre outros, oportunizando assim a expressão dos conflitos e fantasias do mundo infantil.
É possível constatar que o ato de brincar acompanha o ser humano em todas as fases do seu desenvolvimento, inclusive na fase adulta, onde se abandona os brinquedos infantis e projetam-se as suas angústias e anseios por meio das artes visuais, do cinema, da literatura. Segundo o escritor Nelson Rodrigues (1986), se não fosse o seu oficio de escrever, teria enlouquecido, pois com sua obra exorcizava seus demônios, seus fantasmas, já que sua vida foi uma sucessão de tragédias.
 Fonte: http://imagem.vermelho.org.br/biblioteca/nelson-rodrigues59771.jpg
Fonte: http://imagem.vermelho.org.br/biblioteca/nelson-rodrigues59771.jpg
Conclui-se, então, que o ato de brincar como benefício terapêutico é fundamental em todas as etapas da evolução humana. Para Oklander (s\a) apud Goiânia-itgt, (2012), o organismo se desenvolve através de um processo de auto regulação organísmica, ou seja, ele fará o que tiver que fazer para alcançar a tão desejada homeostase – que é o processo pelo qual o organismo satisfaz as suas necessidades e interage com o seu meio buscando o equilíbrio, a fim de adquirir saúde física, mental e espiritual. E o brincar como recurso terapêutico se torna uma via eficaz para esta estabilidade.
REFERÊNCIAS
AGUIAR, L. Gestalt-terapia com crianças: teoria e prática. Livro Pleno. Campinas, 2005.
ARIÈS, P. História Social da Criança e da família. LTC-Livros Técnicos e Científicos Editora S.A. Rio de Janeiro-RJ, 1981.
CARNEIRO, P. V. M. S; SILVA, M. P. Quando brincar é viver criativamente: o encontro da abordagem gestáltica com a winnicottiana. Rev. IGT na Rede, v. 10, nº 19, 2013, p. 335 – 350. Disponível em:< http://www.igt.psc.br/ojs > ISSN: 1807-2526. Acesso em: 27 abr de 2016.
GOIÂNIA-ITGT, Instituto de Treinamento e Pesquisa em Gestalt Terapia de. GESTALT-TERAPIA COM CRIANÇAS: Violet Oaklander, Ph. D. – Fita 01. 2012. Disponível em: <http://itgt.com.br/wp-content/uploads/2012/08/Gestalt-terapia-com-crianças-Violet-Fita-1.pdf>. Acesso em: 12 maio 2016.
MONTEIRO, N. M. O (Ser) Terapeuta Humanista-Existencial e sua Postura na Psicoterapia Infantil. S/A.
PINTO, E. R. Conceitos fundamentais dos métodos projetivos. Ágora (Rio J.) [online]. 2014, vol.17, n.1, pp.135-153. ISSN 1516-1498. http://dx.doi.org/10.1590/S1516-14982014000100009.