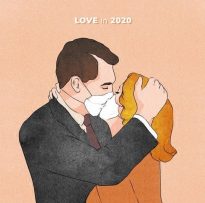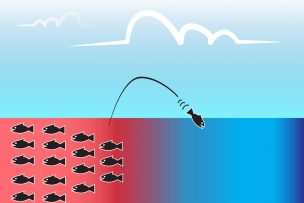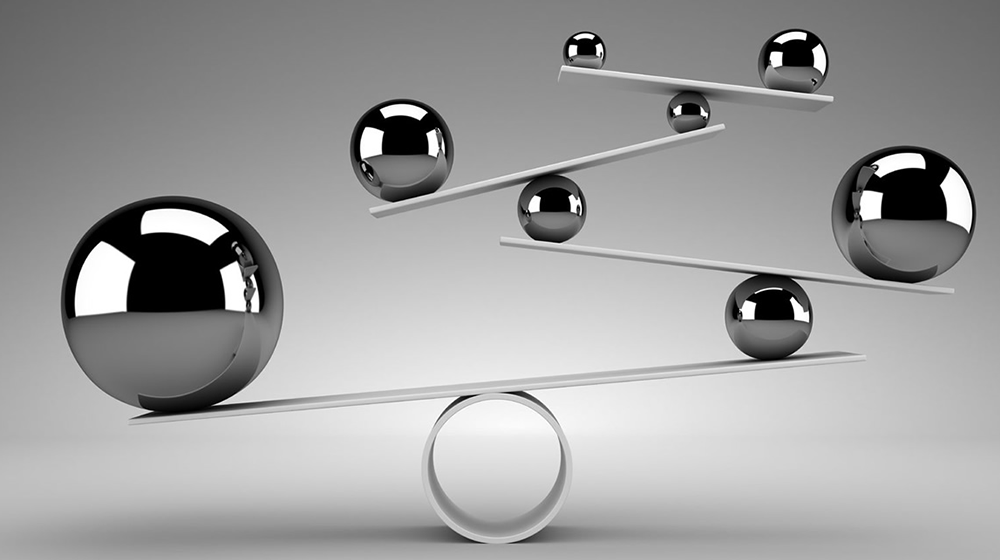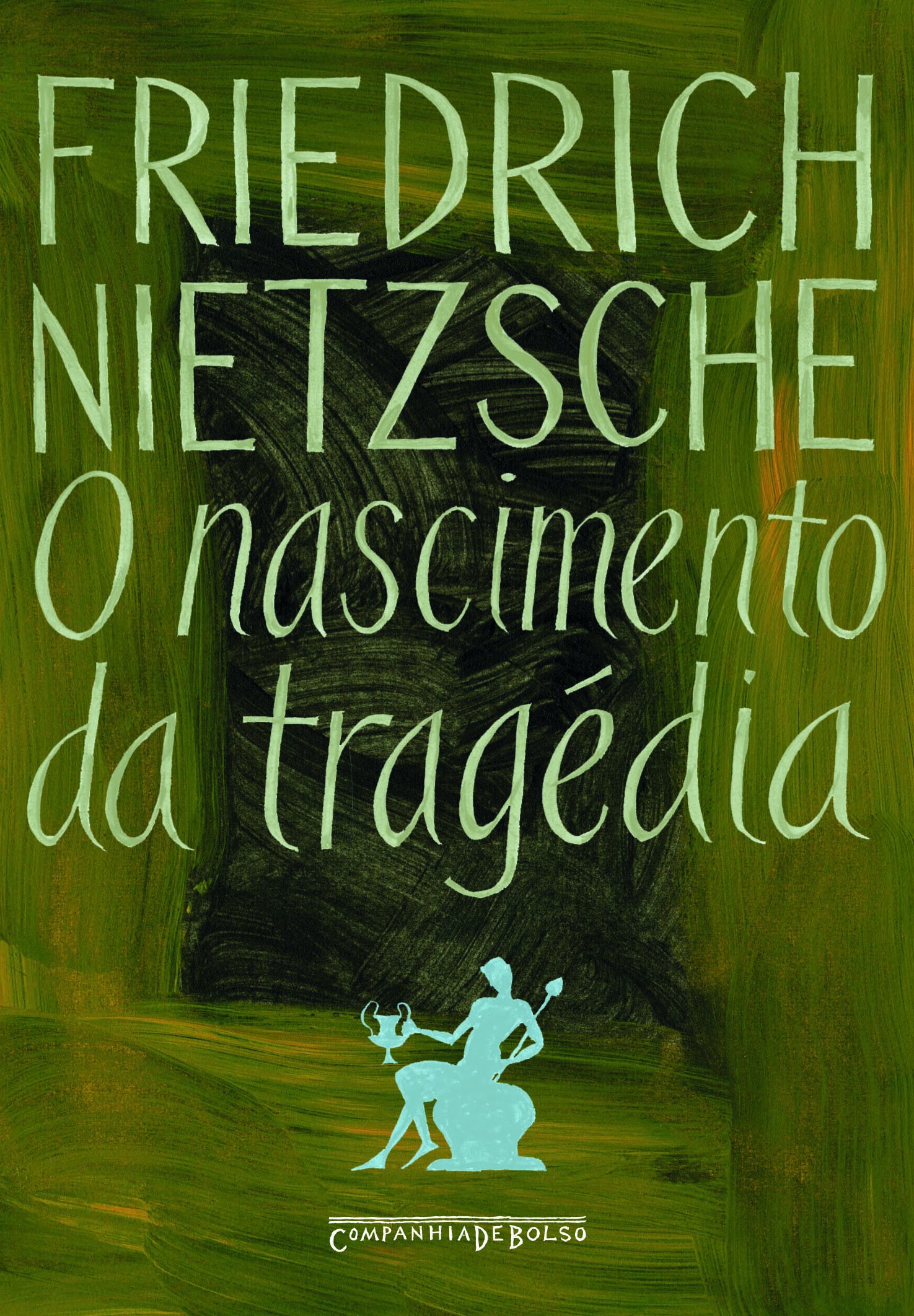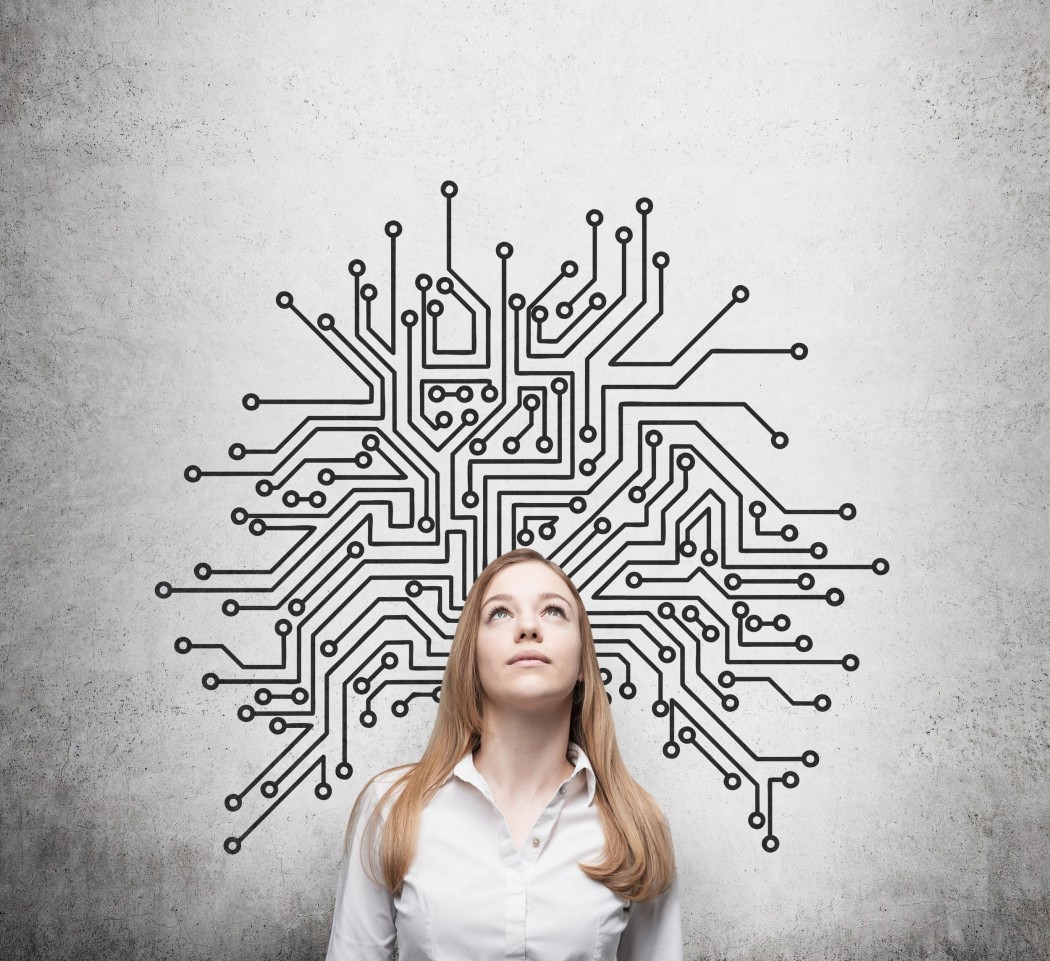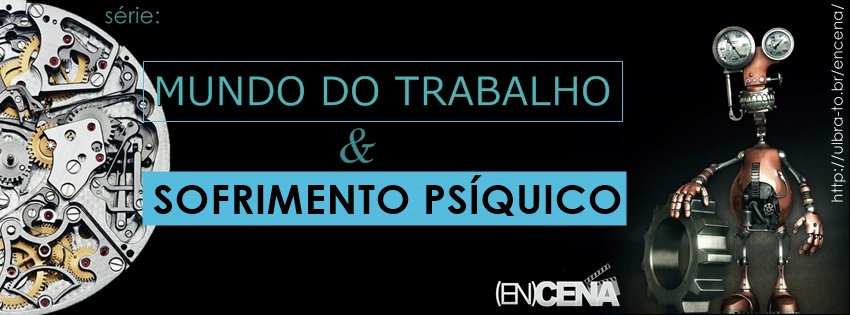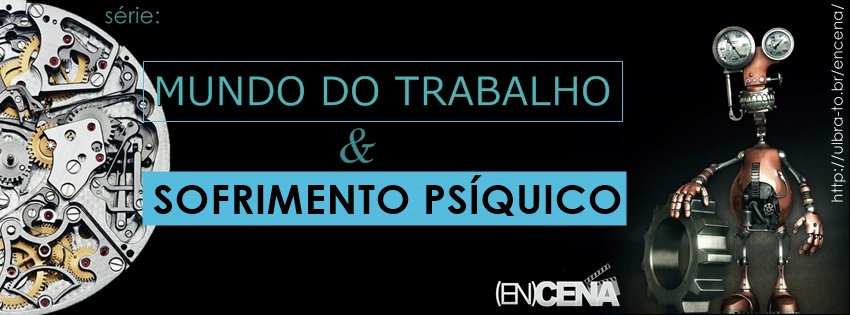
O ser bancário: sujeito em constante adaptação
O trabalhador bancário é sujeito que em muitos aspectos se tornou docilizado pelas constantes investidas do discurso hipermoderno da flexibilidade/superadaptação e da responsabilidade pelo destino de sua empregabilidade e do super-executivo de sucesso, dando a impressão de ser glamouroso o ser trabalhador bancário.
A categoria dos bancários é extensamente estudada sob diversas abordagens, sendo analisados como uma categoria única, sujeita a uma mesma organização do trabalho, o que não se pode caracterizar como completa verdade, tendo em vista que existem várias condições do ser bancário na atualidade (existem os bancários que atuam nas atividades finalísticas e em atividades que são voltadas às questões de direção e organização deste trabalho, numa clara manutenção da divisão social do trabalho).
Não obstante já estarmos nas organizações financeiras em patamares que de longe ultrapassam uma visão taylorizada e fordista da simples produção, é perceptível que essa organização do trabalho tende a se parecer com uma construção de uma estrutura organizacional influenciada pelas novas tendências de gestão do processo toyotista de organização da produção e do trabalho, sendo uma modalidade híbrida de organização, que possui centros organizados no modelo taylorista/fordista, mas com modelos de gestão e de exigências de perfis profissionais ao modo toyotista.
Isso implica em que o trabalhador bancário fica exposto à condição de ter que ser flexível e adaptável, por vezes com o uso do discurso de que na era pós-moderna, que em verdade tem sido denominada hipermoderna, o profissional tem que ser generalista, pensando globalmente e agindo localmente. É forçoso, então, que o profissional em suas rotinas de trabalho lance mão de ter que fazer as atividades especificamente de sua área e complementarmente aquelas que são voltadas ao suporte operacional de seu trabalho.
O que motiva tal processo é a busca desenfreada no contexto organizacional de fazer mais com menos, utilizando-se de um discurso e de uma ideologia proveniente da cultura da excelência.
As instituições financeiras modernas apresentam uma estrutura organizacional que divide o trabalho basicamente em dois grandes segmentos: o segmento de atendimento ou relacionamento, responsável pela implementação das estratégias de relacionamento e negócios com os clientes, sejam pessoa física, pessoa jurídica ou governo, divididos em carteiras segundo classificações oriundas questões de marketing de relacionamento; e o segmento de suporte ou serviços, responsável pela condução de atividades relacionadas às operações de suporte ao negócio e pela condução dos processos internos da unidades de negócio, com uma divisão entre módulos de pagamento e recebimento, em que temos os caixas, modulo administrativo e modulo tesouraria.
O trabalhador, não obstante apresentar, principalmente no começo de sua carreira, o interesse em galgar novos postos, costuma encontrar-se em situações de mobilidade que são complicadas de ultrapassar a depender do segmento em que trabalhar, devendo responsabilizar-se pela sua carreira, mas encontrando barreiras para a mobilidade entre os segmentos.
Sente-se, muitas vezes tolhido em suas possibilidades, não obstante o discurso de existência de oportunidades para aqueles que buscam melhoria em sua carreira através do autodesenvolvimento e da aprendizagem e flexibilidade diante das situações novas que lhe são impostas, mas muitas vezes sem o suporte institucional e condições favoráveis necessários.
O sofrimento: lidando com as intempéries no ambiente físico e psíquico
Dessa forma, cercado de glamour durante anos, o sonho de vários jovens em se tornar bancário era precedido por um profundo reconhecimento social, pois a profissão garantia um salário considerado bom e também trazia status social e a sonhada estabilidade financeira. Com o passar dos anos e após diversos ajustes no ambiente econômico, com a inserção do processo de flexibilização da economia, o trabalho bancário tornou-se profundamente precarizado e esse glamour foi-se apagando, sendo a profissão agora sujeita ao gerencialismo, ao desgaste, à frustração, ao medo e à sua gestão (Resende, 2003; Antunes, 2005). As organizações que agora preconizam a flexibilização acabam por sujeitar o indivíduo a processos de gestão e de controle rígidos e, muitas vezes, sem margem para negociação, o que no caso do trabalho bancário é potencializado em função de os bancos serem os baluartes do capitalismo, considerados fonte misteriosa de multiplicação do capital (Jinkings, 2006).
Nos anos 90, quando se intensificaram as políticas de liberalização, desregulamentação e privatização, houve um maior impulso no processo de reestruturação produtiva nos diversos setores da economia, houve também um movimento complexo e acelerado de transformações o Sistema Financeiro Nacional que resultou na mudança das condições de trabalho, emprego e salário dos trabalhadores nos bancos (Jinkings, 2002).
Segundo Rossi, Mendes, Siqueira e Araujo (2009, 316), “nesse contexto pós-fordista, as formas de controle tornam-se mais sutis, substituindo, progressivamente, a vigilância hierárquica e o poder disciplinar pela mobilização psíquica do trabalhador. O que se deseja é a canalização da energia libidinal, em prol dos objetivos organizacionais. Assim, o adestramento do indivíduo, na organização, e o controle pela via afetiva, passam a ocupar um espaço mais evidente”.
A tecnologia de informação viabilizou a coordenação e controle da força de trabalho que a organização taylorista e burocrática não abrangia, pois reforça os mesmos princípios de rotinização, simplificação, fragmentação e desqualificação, retirando a compreensão do objetivo geral do trabalho e a necessidade de treinamento em quase todos os níveis e tipos de trabalhadores. O desenvolvimento contínuo dos computadores taylorizou os próprios profissionais do ramo, decompondo-os, conforme a própria análise estruturada, em gerentes, analistas, programadores/codificadores e operadores entre outras tantas classificações semi-especializadas frente á complexidades das soluções informatizadas, onde nenhum profissional conhece o todo de uma solução e sua especialização nada mais é do que uma rotina burocratizada, fragmentada e desqualificada (Kumar, 1997).
Segundo Castells (1999), na sociedade de informação e em rede em que vivemos, o trabalho ficará radicalmente modificado: o trabalho físico e instrumental cederá lugar ao trabalho intelectual, o próprio proletariado cederá lugar aos prestadores de serviços, pois os conceitos de mercadoria e valor-trabalho perderam sentidos e se dissolveram no informacional e imaterial.
Tal situação conduz a um processo ímpar em que o contexto das relações sócio profissionais tende a se degradar, surgindo o acirramento da competitividade entre os trabalhadores do setor, que até aquele momento conviviam numa harmonia maior, com um maior senso de cooperação e de proximidade entre os integrantes de uma determinada equipe. As relações de poder eram sentidas mais em outro patamar de resistência e convivência.
É evidente e demonstrado em pesquisas com bancários que as relações sócio-profissionais têm se degradado profundamente tendo por base uma estrutura que conflui para a competitividade e disputas de poder, tornando o ambiente propenso ao narcisismo, individualismo e desconfianças, não permitindo cooperação e tendo uma condição de avaliação altamente individual, fazendo com que os indivíduos, mesmo colaborando muito, muitas vezes sejam mal avaliados diante do cumprimento de metas.
Ainda a hibridização das atividades dos segmentos, em alguns setores da atividade bancária tem sido observado, visto que aquele segmento que antes era responsável pelo suporte aos negócios, realizando atividades de monitoramento, qualidade e manutenção de cadastros, vistorias em geral, preparação e envio de documentos foi diminuído, quase extinto nas unidades de negócio, passando algumas dessas atividades, em algum nível a ser efetuadas pelos próprios funcionários do segmento negocial e de relacionamento, inclusive com perda da qualidade, considerando que o foco de sua atividade é o atendimento e a realização de negócios.
De outro lado, termina o que resta do segmento de suporte tendo que realizar atendimentos, ainda que não tenham treinamento perfil relacional adequado ao tipo de atividade negocial, comprometendo também a qualidade do serviço.
Essa situação faz com que os próprios trabalhadores se sintam desgastados e desqualificados, buscando constante atualização, percebendo que ainda assim não alcançam o adequado nível de adesão ao tipo de tarefas, causando constrangimento e sensação de inadequação ao serviço, com o qual sentem contribuir com seus corpos e mentes, mas que nos períodos avaliativos não tem essa contribuição devidamente reconhecida, inclusive por não atingirem as metas estipuladas.
Tal situação (a pouca “qualidade”) leva os bancários ao sentimento de impotência, desqualificação e exaustão pelo não cumprimento de metas e de realização de seu trabalho, o que lhe causa desconforto pelo dever não cumprido (Dejours, 1992; 2006).
O bancário, dessa forma, ao modelo da teoria evolucionista, são separados entre os mais adaptáveis e os menos adaptáveis, trabalhando o sistema financeiro com um processo de seleção de indivíduos altamente capacitados, flexíveis e adaptados, mesmo que com isso comprometa a criatividade e um desempenho muito mais efetivo que o que é buscado com a compulsão a excelência.
Um ambiente com essa qualidade conduz à automatização, perda de criatividade e diminuição do afeto, quando são à sua clivagem, produzindo uma categoria de trabalhadores que tem demonstrado adoecimento físico e psíquico em alta, normopatas, esquizofrênicos e sociopatas.
Enquanto as condições ambientais de trabalho estão relacionadas à saúde do corpo físico, essa reestruturação da organização do trabalho está relacionada ao sofrimento psíquico, podendo ser decorrente de responsabilidades, relações de poder, hierarquias, formas de comando, tecnologia, divisão e conteúdo do trabalho, entre outros (Dejours, 2004a).
A psicodinâmica do trabalho, como afirma Mendes (2007), ao reconhecer o trabalho dicotomicamente como construtor de identidade e subjetividade e como fonte de alienação, direciona o estudo do sofrimento para a inter-relação dos trabalhadores com a organização do trabalho e para as estratégias defensivas que utilizam para lidar com o trabalho, dando-lhe contornos e destinos ao sofrimento.

Os destinos do sofrimento
Antloga e Mendes (2009) entendem que a saúde é resultante de conflitos intra e intersubjetivos entre o desejo do trabalhador e o a realidade de trabalho, o contexto de produção. A dinâmica prazer-sofrimento fica então reforçada como inerente ao trabalho e o processo psíquico do indivíduo e a consecução da utilização da energia libidinal na relação indivíduo-trabalho.
O construto prazer-sofrimento é entendido como um construto dialético, representando aspectos dinâmicos do relacionamento do homem com seu trabalho, sendo o sofrimento parte integrante do trabalho, que pode conduzir ao uso da mobilização subjetiva, da cooperação e da inteligência prática, ressignificando o sofrimento, dando-lhe sentido e conduzindo ao prazer; ou ao uso de estratégias de defesa individuais ou de grupo, que quando falham, podem conduzir à perpetuação do sofrimento, às patologias psíquicas e sociais.
Dentre os bancários tem-se encontrado fontes de resistência ao sofrimento que também têm relação com as questões teóricas acima apontadas, pois trata-se de uma categoria que lida com um trabalho imaterial, que em sua maior parte não se vê e de difícil reconhecimento quando não se discute efetivamente o trabalho e sua organização e não há espaço de discussão e margem para adequação da destes.
A solução dos problemas dos clientes tem-se demonstrado fontes de prazer quando há o reconhecimento dos mesmos, ou de sofrimento e mal-estar, tendo em vista o nível cada vez mais alto de exigência de um atendimento de qualidade prestado com cordialidade e rapidez.
A alta carga de exigência também está presente na pressão por metas e redução de tempos de atendimento, infindáveis e por vezes inalcançáveis, comprometendo a qualidade e o desempenho, tendo como princípio avaliativo a excelência e o desempenho individual, causando isolamento e não cooperação entre os indivíduos, equipes e segmentos de trabalho.
A organização do trabalho para os bancários demonstra características da constante presença de pressão institucional por resultados e pressão dos clientes por um atendimento ágil e que solucionasse seus problemas no momento em que são atendidos, sendo uma organização em que em tudo e por tudo os trabalhadores têm de se reportar aos normativos, sob pena de sanções, processos e inquéritos administrativos, produzindo por vezes a existência de violência no ambiente de trabalho, com frequente apontamento dos trabalhadores da prática do assédio moral.
Outro fator que impacta no volume de tarefas reside no fato de que existem atividades que deveriam pertencer ao segmento de suporte e que são direcionadas para esses mesmos funcionários tendo em vista o reduzido quadro de funcionários em determinados setores da agência.
Esta hibridização no espaço das agências é resultado da concentração de alguns serviços em setores administrativos e/ou da terceirização de processos administrativos, de forma facilitar o trabalho, um discurso falacioso, e concentrar o trabalho das unidades de negócio no foco principal, a atividade fim que, no caso dos bancos, é a geração de negócios.
Entretanto, existem atividades estritamente ligadas à geração de negócios que não são terceirizadas ou concentradas em órgãos externos às agências que terminam por serem assumidos pelos trabalhadores que continuam nessas unidades, que, prioritariamente, devem voltar-se para os negócios.
A hibridização torna os funcionários do suporte atendentes mal preparados e os do atendimento em executores de rotinas sem o necessário know-how em processos e procedimentos, o que causa intensificação do trabalho para os dois segmentos e modifica o perfil do adoecimento no trabalho bancário.
Diante desta situação, nota-se que o fenômeno da hibridização não é favorável à saúde dos bancários, situação denotada nas falas dos entrevistados, e que demonstra uma degradação da organização do trabalho, que, conjugada com metas abusivas e inatingíveis e com o processo de gestão do medo e o assédio moral, torna-se inflexível a todos e não possibilita espaços para discussão do trabalho e para o investimento da criatividade na sua reorganização e compatibilização aos anseios e desejos dos trabalhadores.
Essa hibridização vai de encontro com a flexibilização do modelo da acumulação flexível, que aproxima os bancários de um perfil de trabalhador múltiplo.
A sobrecarga de trabalho aparece como uma das vivências de sofrimento mais citada, entretanto com características bastante diferentes entre segmentos, uma vez que para os funcionários do atendimento há uma maior carga de trabalho cognitivo, para interpretação das situações do dia a dia, das normas e da realização do trabalho dentro das mesmas, bem como se caracteriza pela incessante busca do cumprimento das metas, causando sentimento de desgaste, frustração e impotência, quando não de incompetência, ainda que não seja esse o fator que leva ao não cumprimento das metas. Tal situação pode conduzir a um processo de normalização, solidão e de servidão voluntária, podendo culminar em um processo de normopatia (Ferraz, 2005; Mendes 2008); ao passo que o segmento de suporte, por envolver mais o corpo na realização de seu trabalho, costumam representar o bancário que adoece por doenças osteo-musculares relacionadas ao trabalho – Dort, notadamente as lesões por esforços repetitivos – LER (Barbarini, 2001; Castro-Silva, 2006; Rossi, 2008; Rossi, Mendes, Siqueira e Araujo, 2009) e em um estágio posterior, pela perda de sua capacidade laboral, tendem a apresentar uma incidência de depressão e demais quadros psíquicos dela provenientes com forma de adoecimento.
Sobre o exposto ainda tem-se que acrescentar que, conforme dados expostos pelos sindicatos da categoria bancária, nos últimos anos, o perfil de adoecimento na categoria bancária tem delineado um quadro diverso, em que os trabalhadores que atuam em agências bancárias, em decorrência da intensificação do trabalho e do fenômeno da hibridização, tem sido expostos a riscos de adoecimento que antes seriam claramente delineados como pertencentes o um segmento de trabalho ou a outro.

Reorientações organizacionais
O contexto de trabalho bancário, diante do que se expõe acima, favorece riscos de adoecimento para segmentos diversos, com a presença clara do adoecimento osteo-musculares, mas que também se podem relacionar ao adoecimento psíquico em decorrência de uma adesão exacerbada ao discurso organizacional e às estratégias de docilização dos corpos, normopatia, com a presença da servidão voluntária e da ideologia da excelência, produzindo a autoaceleração que propiciará as doenças osteo-musculares.
Além disso, a presença da normopatia produz um ambiente desigual e violento, ainda que essa violência fique velada, não aparente, ela vai produzir indivíduos propensos às sociopatias e à reprodução viciosa do discurso da excelência, conduzindo à gestão pelo medo, gerando produndas marcas no processo de subjetivação do trabalhador bancário.
Concluindo, se pode sugerir que nas práticas de gestão de pessoas seja dada uma maior ênfase não ao discurso da participação dos funcionários, mas à abertura aos espaços de discussão do trabalho que permitam aos trabalhadores desvelarem seus sofrimentos e compartilhar, além de experiências, situações de angústia de forma a permitir um ambiente cooperativo e de reconhecimento, permitindo que o tripé composto pelo espaço de discussão, pela cooperação e pelo reconhecimento sendo gerador de um processo de elaboração da organização de trabalho, perlaboração das vivências de sofrimento e ressignificação do mesmo de maneira propiciar um processo de subjetivação que garanta relações sócio-profissionais saudáveis e que reduzam a possibilidade de adoecimento físico, psíquico e social, não como paliativos, ofurôs corporativos, mas efetivos, para além das práticas de qualidade de vida no trabalho atualmente efetuadas, mas permitindo a discussão e a readequação da organização do trabalho e não só do indivíduo ao seu posto de trabalho.
Referências:
Antloga, C. S. X.; Mendes, A. M. (2009). Sofrimento e adoecimento dos vendedores de uma empresa de material de construção. Psicologia: Teoria e Pesquisa, v. 25, n. 2, Brasília: UnB. p. 255-262.
Antunes, R. (2005). Os sentidos do trabalho. 7ª reimpressão. São Paulo: Boitempo.
Arendt, H. (2007). Eichmann em Jerusalém. São Paulo: Companhia das Letras.
Aubert, N.; Gaulejac, V. (1991). Le coût de l’excellence, Paris, Éditions du Seuil.
Castells, M. (1999). A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra.
Castro-Silva, L. M. (2006). Casos de afastamento por LER/Dort e retorno ao trabalho bancário: uma análise psicodinâmica. Dissertação (Mestrado). Mestrado em
Psicologia. Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações. Instituto de Psicologia. Brasília: Unb.
Dejours, C. (1992). A loucura do trabalho: estudo de psicopatologia do trabalho. São Paulo: Cortez – Oberé.
Dejours, C. (2004a). Da psicopatologia à psicodinâmica do trabalho. Rio de Janeiro: Editora Fiocruz, Brasília: Paralelo 15.
Dejours, C. (2006). A banalização da injustiça social. 7ª. ed. 4ª. reimpressão. Rio de Janeiro: Editora FGV.
Ferraz, F. (2005). Normopatia: sobreadaptação e pseudonormalidade. 2ª. ed. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Jinkings, N. (2002). Trabalho e resistência na fonte misteriosa: Os bancários no mundo da eletrônica e do dinheiro. São Paulo: Editora Unicamp.
Kumar, K. (1997). Da sociedade pós-industrial à pós-moderna: novas teorias sobre o mundo contemporâneo. Rio de Janeiro: Jorge Zahar.
Mendes, A. M. (org.) (2007). Psicodinâmica do trabalho: teoria, método e pesquisas. São Paulo: Casa do Psicólogo.
Mendes, A. M. (2008). Prazer, reconhecimento e transformação do sofrimento no trabalho. Em: Mendes, A. M. (Org.). (2008). Trabalho e saúde: O sujeito entre emancipação e servidão. 1. ed. Curitiba: Juruá.
Rossi, E. M. (2008). Reabilitação e reinserção no trabalho de bancários portadores de LER/DORT: análise psicodinâmica. Tese (doutorado). Doutorado em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, Programa de Pós-Graduação em Psicologia Social, do Trabalho e das Organizações, Instituto de Psicologia, Universidade de Brasília. Brasília: UnB.
Rossi, E. M.; Mendes, A. M.; Siqueira, M. V. S; Araújo, J. N. G. (2009). Sedução e servidão em um caso de ler/DORT: diálogo entre a Psicodinâmica do Trabalho e a Sociologia Clínica. Psicologia Política, v 9, n 18. pp 313-330. Jul/dez.
Siqueira, M. V. S. (2009). Gestão de pessoas e discurso organizacional. 2ª. Ed. Curitiba: Juruá.