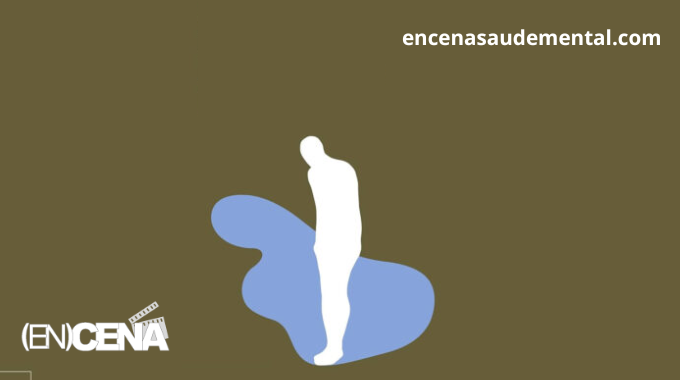Zygmunt Bauman nos alertou sobre a natureza líquida de nossa modernidade, onde tudo que era sólido se desmancha no ar. Mas talvez nem mesmo o sociólogo polonês pudesse prever quão profundamente essa liquidez penetraria na essência mesma do que significa existir, conhecer e experimentar. Vivemos agora não apenas numa sociedade líquida, mas numa existência líquida, onde nossa própria identidade escorre entre os dedos como água, onde nossos conhecimentos evaporam antes mesmo de se condensarem, onde nossas experiências se dissolvem no momento mesmo em que tentamos apreendê-las.
Na modernidade líquida de Bauman, as estruturas sociais perderam sua solidez, tornando-se maleáveis, temporárias, descartáveis. O mesmo fenômeno contaminou nossa relação com o saber. O conhecimento, que outrora se sedimentava lentamente nas camadas profundas da consciência através da leitura contemplativa, agora flui em torrentes superficiais pelas telas de nossos dispositivos.
Não lemos mais livros; consumimos fragmentos. Não construímos bibliotecas mentais; acumulamos citações como quem coleciona cartões postais de lugares que nunca visitou. A citação de Dostoiévski no Instagram não é conhecimento, é seu simulacro líquido, uma aparência de erudição que se dissolve no primeiro questionamento mais profundo.
Bauman falava da “síndrome da impaciência” como característica fundamental da modernidade líquida. Aplicada ao conhecimento, essa síndrome se manifesta na nossa incapacidade de suportar a lentidão necessária para a verdadeira compreensão. Queremos Proust em pílulas, Nietzsche em memes, Machado de Assis em stories que desaparecem em 24 horas.
“Na modernidade líquida”, observou Bauman, “a identidade é uma tarefa a ser realizada”. Mas nossa época transformou essa tarefa numa performance constante, num espetáculo ininterrupto de autoconstrução através de imagens e citações emprestadas. Somos bricoleurs de identidade, colando fragmentos de personalidades alheias para compor um eu que muda de forma conforme a plataforma.
Citamos Clarice Lispector para parecer profundos, invocamos Fernando Pessoa para sugerir complexidade, repetimos Sartre para demonstrar engajamento. Nossa identidade intelectual tornou-se tão líquida quanto tudo mais na modernidade tardia, uma composição fluida de referências que não dominamos, de influências que não absorvemos, de saberes que não possuímos.
A solidez da identidade intelectual exigia tempo, paciência, a lenta sedimentação do conhecimento através da experiência repetida com os textos. Mas o tempo é exatamente o que nossa época líquida não tolera. Preferimos a identidade instantânea, o eu-delivery, a personalidade fast-food.
Bauman identificou, na modernidade líquida, a transformação de tudo em objeto de consumo, incluindo as relações humanas e as experiências. Hoje, consumimos não apenas produtos, mas momentos, sensações, até mesmo nossa própria vida. Fotografamos o prato antes de comê-lo porque o consumo visual precede e, frequentemente, substitui o consumo real.
Desenvolvemos o que poderíamos chamar de “bulimia experiencial”: engolimos vorazmente momentos que imediatamente regurgitamos em forma de posts, stories, tweets. A experiência não tem tempo de ser digerida, metabolizada, transformada em memória real. Ela passa por nós sem nos tocar, como água através de um filtro.
O paradoxo é cruel: numa época de abundância de estímulos, sofremos de fome experiencial. Temos acesso a mais informação, mais arte, mais literatura do que qualquer geração anterior, mas nossa capacidade de absorção atrofiou. Somos como esponjas saturadas que não conseguem mais absorver uma gota sequer.
“A vida líquida é uma vida precária, vivida em condições de incerteza constante”, escreveu Bauman. Essa precariedade se manifesta também na nossa relação com o tempo e a atenção. Não conseguimos mais sustentar o foco necessário para atravessar as 600 páginas de Os Irmãos Karamázov, mas conseguimos passar horas scrolling infinitamente por feeds que nos deixam mais vazios a cada swipe.
A aceleração da vida moderna criou uma paradoxal lentidão existencial. Movemo-nos cada vez mais rápido para lugar nenhum, consumimos informação em velocidade crescente sem jamais chegar ao conhecimento, acumulamos experiências superficiais que nos deixam progressivamente mais pobres interiormente.
Treze segundos. É o tempo médio que dedicamos a um vídeo de noventa segundos. Treze segundos para julgar, categorizar, descartar e seguir adiante. Treze segundos que se tornaram a medida de nossa atenção, o quantum mínimo de nossa paciência. Como esperar que uma mente treinada em doses de treze segundos consiga sustentar as horas necessárias para ler Grande Sertão: Veredas?
Guy Debord falava da “sociedade do espetáculo”, mas nossa época criou algo ainda mais perverso: a sociedade do espetáculo líquido, onde cada indivíduo é simultaneamente ator, diretor e plateia de seu próprio show. Não basta mais assistir ao espetáculo; é preciso ser o espetáculo.
Bauman observou que, na modernidade líquida, “a vida se organiza em torno do consumo”. Hoje, consumimos nossa própria existência, transformando cada momento em conteúdo, cada experiência em post, cada pensamento em tweet. Somos produtores e consumidores de nós mesmos, numa economia circular de auto exploração.
A citação de um livro não lido torna-se capital simbólico numa economia da aparência. Não importa ter lido Kafka; importa parecer alguém que leria Kafka. A profundidade real é substituída pela performance da profundidade, a erudição genuína pela simulação da cultura.
Há uma melancolia particular em viver sempre na superfície das coisas, em ser eternamente turista de sua própria vida. Bauman falava da “melancolia da modernidade líquida”, essa sensação de que tudo escorrega entre os dedos, de que nada permanece, de que toda solidez é ilusória.
Nossa relação com a literatura exemplifica perfeitamente essa melancolia. Temos acesso instantâneo a toda a biblioteca da humanidade, mas perdemos a capacidade de habitar um livro, de fazer dele nossa morada temporária, de deixar que suas palavras nos transformem lentamente. Preferimos visitas rápidas a mudanças definitivas.
Citamos Pessoa sem conhecer seus heterônimos, invocamos Lispector sem ter experimentado suas epifanias, repetimos Machado sem ter saboreado sua ironia. É como conhecer uma cidade apenas pelo aeroporto, como julgar um vinho apenas pelo rótulo.
Mas talvez ainda haja esperança na própria liquidez que nos define. Se tudo é fluido, se nada é permanente, então nossa atual relação superficial com o conhecimento e a experiência também pode mudar, pode se transformar, pode encontrar novas formas.
A resistência à modernidade líquida não pode ser a nostalgia de uma solidez perdida, essa seria uma batalha perdida de antemão. A resistência deve ser líquida também, adaptável, criativa. Talvez possamos aprender a navegar na liquidez sem nos afogar nela, a fluir sem nos dispersar completamente.
Isso exige o que Bauman chamaria de “arte de viver” na modernidade líquida: a capacidade de manter alguma coerência interna em meio ao caos externo, de preservar alguma profundidade em meio à superficialidade generalizada. Não se trata de rejeitar a tecnologia ou de fugir para uma cabana no campo, mas de desenvolver anticorpos contra a aceleração, de cultivar ilhas de lentidão num oceano de pressa.
A verdadeira revolução de nossa época será temporal, não tecnológica. Será a reconquista do tempo humano, do ritmo da reflexão, da velocidade da contemplação. Será quando aprendermos a ser lentos numa época rápida, profundos numa era superficial, presentes numa sociedade de ausentes.
Ler um livro inteiro, do começo ao fim, sem interrupções, torna-se um ato quase revolucionário. Viver um momento sem documentá-lo, experimentar uma emoção sem tweetá-la, ter um pensamento sem transformá-lo em conteúdo – esses se tornam gestos de resistência contra a liquidez que nos dissolve.
Bauman nos ensinou que “a modernidade líquida é a época da desregulamentação, da flexibilização, da liberalização de todos os mercados”. Talvez, seja hora de regulamentar nossa atenção, de flexibilizar nossa pressa, de liberalizar nosso tempo para que ele volte a nos pertencer.
Na sociedade líquida, a única solidez possível talvez seja a que construímos dentro de nós mesmos, página por página, experiência por experiência, momento presente por momento presente. Não como resistência nostálgica ao mundo que vivemos, mas como forma mais plena de habitá-lo.
A Ironia do Espelho
E aqui estou eu, caro leitor, no final deste texto que denuncia nossa obsessão por citações, tendo acabado de citar Bauman dezessete vezes, Debord uma vez, Lévi-Strauss implicitamente, e ainda por cima mencionado Dostoiévski, Proust, Nietzsche, Machado, Pessoa, Lispector, Sartre e Kafka como quem espalha confetes numa festa intelectual.
Que deliciosa contradição! Escrevo sobre nossa mania de citar autores que não lemos enquanto construo meu argumento inteiro sobre as costas de um sociólogo polonês que, confesso, li apenas parcialmente. Critico nossa tendência a usar referências como ornamentos enquanto decoro meu próprio texto com nomes ilustres como quem pendura diplomas na parede.
Sou, portanto, o perfeito exemplar da espécie que acabei de dissecar: um bricoleur da erudição, um curador de citações alheias, um performer da profundidade.
Este texto é, ele mesmo, um produto da modernidade líquida que critica, fluido, fragmentário, construído com pedaços emprestados de outros pensadores.
A diferença, talvez, seja que admito a farsa. Reconheço que sou parte do problema que diagnostico, que participo da mesma comédia cultural que denuncio. E há algo libertador nessa confissão: se todos somos impostores intelectuais, então pelo menos sejamos impostores conscientes, com senso de humor sobre nossa própria impostura.
Afinal, como diria Pessoa, que eu cito aqui sem ter lido nem metade de sua obra, “o poeta é um fingidor”. E se somos todos poetas de nossa própria erudição, então pelo menos finjamos com estilo, com ironia, com a elegância de quem sabe que está representando.
Porque, no final das contas, talvez a única profundidade real seja reconhecer nossa própria superficialidade. E isso, meus caros leitores que chegaram até aqui (estatisticamente improváveis), já é um começo.