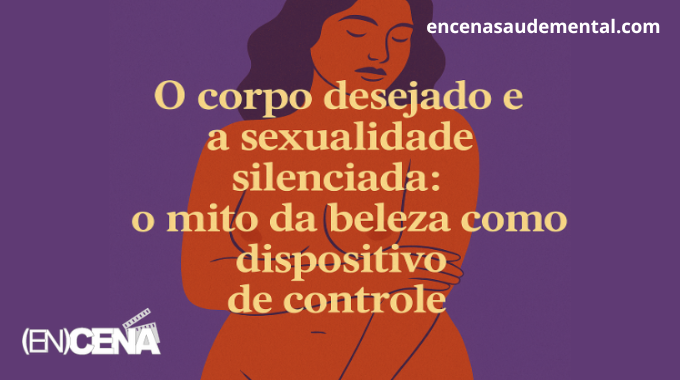A construção da imagem corporal feminina é um dos fenômenos mais complexos da contemporaneidade. Em uma sociedade que se diz cada vez mais livre sexualmente, é irônico observar o quanto o corpo da mulher segue prisioneiro de um ideal estético opressor. Naomi Wolf, em sua obra seminal O Mito da Beleza (1992), escancara essa contradição: à medida que as mulheres conquistam avanços sociais, políticos e profissionais, surge um novo e silencioso instrumento de contenção do culto à beleza.
O “mito da beleza”, segundo Wolf, não é apenas uma preferência cultural ou uma forma de expressão individual. Ele é uma construção simbólica que funciona como um sistema de dominação. Ao associar o valor da mulher à sua aparência, esse mito desloca o foco da subjetividade para o corpo, da autonomia para a aprovação externa. Ele diz às mulheres, com sutileza, que sua liberdade tem um preço: caber em um padrão inatingível.
E é justamente nesse deslocamento entre o ser e o parecer que a sexualidade feminina se vê ameaçada. A mulher que vive para ser olhada aprende a se enxergar pelos olhos do outro. Sua sexualidade passa a ser moldada não pelo desejo próprio, mas pela expectativa alheia. O gozo, nesse cenário, é muitas vezes condicionado à aprovação estética. Quem não se sente “bonita o suficiente”, sente-se indigna de prazer.
A psicanálise, desde Freud, oferece um caminho potente para pensar esse fenômeno. Em Três Ensaios sobre a Teoria da Sexualidade (1905), Freud mostra que a sexualidade humana é atravessada por repressões, recalques e construções simbólicas desde a infância. A libido essa força de desejo que movimenta o psiquismo não segue uma linha reta. Ela se desvia, se reprime, se expressa em sintomas, em fantasias, em escolhas aparentemente banais, mas profundamente significativas.
Para Freud, o corpo não é apenas uma estrutura anatômica, mas um território de investidura libidinal, de inscrição simbólica. E o feminino, dentro dessa perspectiva, é atravessado por construções sociais que reforçam um ideal de passividade e de objeto de desejo jamais sujeito. A mulher é ensinada a ser desejável, não a desejar. Como consequência, muitas mulheres vivem o desejo como culpa, como risco, como exposição.
Na clínica, isso se expressa em discursos marcados por insegurança corporal, medo da rejeição, vergonha em contextos íntimos. Quantas mulheres se afastam da própria sexualidade por se sentirem fora do padrão? Quantas inibem o próprio prazer por acreditarem que seus corpos não são “dignos” de serem vistos ou tocados? A opressão estética, portanto, não é superficial, ela toca diretamente o núcleo do desejo e da subjetividade.
A escuta psicanalítica se torna, nesse cenário, um ato político e clínico. Ao oferecer um espaço onde o sujeito pode falar de si sem o peso do julgamento, a psicanálise permite a emergência de um desejo que não se conforma às normas sociais. Colette Soler (2005), psicanalista lacaniana, aprofunda essa ideia ao afirmar que o feminino, historicamente, tem sido o lugar do Outro o espelho do desejo masculino. Mas, na análise, a mulher pode se reapropriar de sua posição de sujeito. Ela pode nomear seu desejo, questionar seus ideais, reconstruir sua relação com o corpo e com o gozo.
Além disso, a psicanálise permite compreender que o sintoma estético como a obsessão por emagrecer, o excesso de procedimentos, o autojulgamento constante pode ter raízes inconscientes. Não se trata de vaidade ou futilidade, como o senso comum insiste em afirmar, mas de um sofrimento real, que muitas vezes esconde demandas mais profundas de amor, reconhecimento, pertencimento e identidade.
Na obra de Naomi Wolf, há uma crítica contundente à forma como o sistema capitalista se apropria desse sofrimento para lucrar. A indústria da beleza, da moda, da dieta e dos procedimentos estéticos movimenta bilhões justamente porque alimenta a insegurança das mulheres. E quanto mais elas conquistam poder externo, mais se exige que provem sua feminilidade através da aparência. É como se dissesse: “Você pode ter poder, desde que continue bela nos nossos termos.”
Wolf também aponta para um fenômeno ainda mais cruel: a competição entre mulheres, estimulada por esse mito. Quando o valor está no corpo e não no pensamento, mulheres deixam de ser aliadas para se tornarem rivais. Isso fragiliza redes de apoio, silencia discursos libertários e mantém o patriarcado em funcionamento, ainda que sob novas roupagens.
A psicanálise, portanto, pode contribuir para desarticular esses discursos internalizados. Não se trata de eliminar o sofrimento, mas de compreendê-lo e dar a ele um novo sentido. Trata-se de fazer com que o sujeito saia da posição de objeto, moldado pelo olhar do outro e se reconheça como sujeito de desejo, com direito a gozar, a existir e a não corresponder ao ideal.
Ao devolver a fala à mulher que se cala diante do espelho, a psicanálise propõe que o divã substitua o reflexo. Ali, onde a imagem cede lugar à palavra, o sujeito pode começar a escutar a si mesmo para além do mito. E talvez, nesse gesto, encontre uma forma mais verdadeira de habitar o próprio corpo e sua sexualidade.
REFERÊNCIAS
FREUD, Sigmund. Três ensaios sobre a teoria da sexualidade (1905). In: FREUD, S. Edição Standard Brasileira das Obras Psicológicas Completas de Sigmund Freud. Rio de Janeiro: Imago, 1996. v. VII.
SOLER, Colette. O que Lacan dizia das mulheres. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 2005.
WOLF, Naomi. O mito da beleza: como as imagens de beleza são usadas contra as mulheres. Rio de Janeiro: Rocco, 1992.