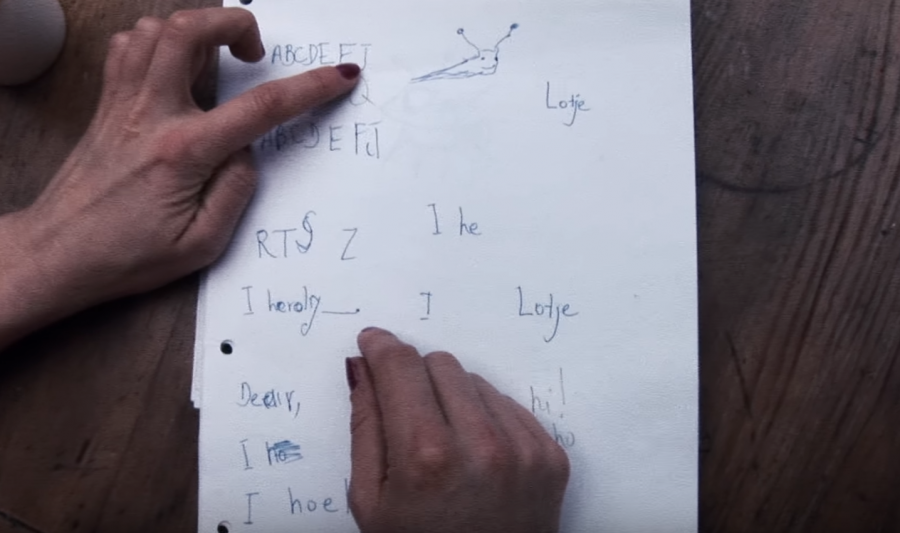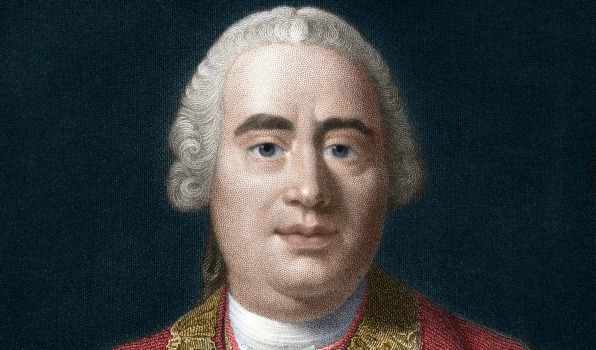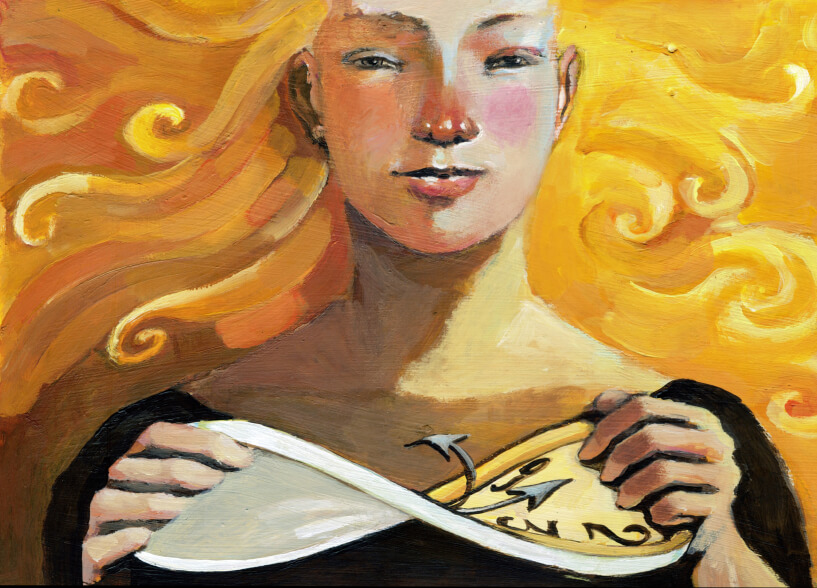As discussões sobre a existência ou não das “ideias inatas”, ou de um conhecimento a priori que independa da experiência, sempre rendeu acalorados debates filosóficos, debates estes que vêm sendo registrados desde os pré-socráticos e que reassume posição com força total nos chamados “anos selvagens da filosofia” (SAFRANSKI, 2012), quando o racionalismo¹ passa a ser confrontado pelo empirismo², entre os séculos XVII e XIX. Neste processo, de um lado, o real é visto como algo que, no fundo, é racional; aparece então a concepção de ideia “onde a razão em nós é independente da experiência e a torna possível” (COMTE-SPONVILLE, 2011, p. 500).
A ideia torna-se antes de tudo uma representação que “só são visíveis (idein, em grego, significa ver) para o espírito, e tudo o que o espírito representa pode ser chamado ideia” (idem, p. 290). No entanto, vale destacar, na medida que se percebe o aspecto e a forma visível de uma dada coisa (de uma árvore, por exemplo), como ideia “concebida interiormente, como algo mesmo que existe em nosso espírito, como diria Descartes” (COMTE-SPONVILLE, 2011, p. 500), há aí apenas uma faceta da ideia. Desta forma,
a ideia não é apenas o que existe no ‘pensamento’, como também dizia Descartes, mas o que daí resulta, o que o pensamento produz ou elabora, que é menos seu objeto do que seu efeito. Pensar é ter ideias, mas só podemos tê-las se as produzimos ou reproduzimos – se as pensamos –, o que requer esforço ou trabalho (COMTE-SPONVILLE, 2011, p. 500)

Por outro lado, há a concepção de ideia como algo que só pode existir em co-participação com algo, num movimento que se aproxima do conceito de espírito de que fala Espinosa, por exemplo, o que equivaleria a dizer que só há ideia se houver, também, algo pensante. Por esta ótica, “não há ideia à parte ou em si: só há o trabalho do pensamento” (COMTE-SPONVILLE, 2011, p. 500). Assim, ideia que não é pensada por ninguém não seria ideia, em contraposição às assertivas platônicas. Desta forma, para os empiristas, a “razão não é um dado primeiro e absoluto: ela própria é oriunda da experiência, tanto exterior (sensações) como interior (reflexão)” (COMTE-SPONVILLE, 2011, p. 191).
É importante destacar, no entanto, que o empirismo combate o racionalismo em sua definição gnosiológica³, no entanto o próprio empirismo acaba por ser racionalista “no sentido amplo e normativo, e a maioria dos grandes empiristas (de Epicuro a Hume) combateram para que a razão prevalecesse, não, é claro, contra a experiência, o que ela nem pode nem deve, mas contra o obscurantismo e a barbárie” (COMTE-SPONVILLE, 2011, idem).
A PROBLEMATIZAÇÃO DO SENTIDO DE IDEIA
Vale observar que, de acordo com Ferrater Mora, é fácil perceber como os filósofos modernos e até mesmo os contemporâneos foram (e ainda o são) influenciados pelo arcabouço surgido em torno da “problematização do sentido de ideia”, seja para avançar nas assertivas idealistas, seja para refutar tais possibilidades. Platão e Santo Agostinho, então, acabam por ser fonte inesgotável tanto de quem os defende, quanto de quem os ataca. É importante destacar que, em Platão, há uma tentativa de “reduzir as ideias a ideias de objetos matemáticos e de certas qualidades que hoje em dia consideramos valores (bondade, beleza, etc.) […] uma ideia é tanto mais ‘ideia’ quanto mais exprima a unidade de algo que aparece como múltiplo” (MORA, 2001, p. 350). Esta visão ganha contornos ainda mais definidos entre os neoplatônicos, para quem no Uno não podia haver nenhuma pluralidade.
Santo Agostinho adotou em grande medida a doutrina neoplatônica das ideias, mas não pôde aceitar a concepção do Uno como ‘emanente’. Sendo Deus criador ex nihilo, encontra-se acima de todas as coisas, inclusive, é claro, das ideias. Mas, ao mesmo tempo, estas podem conceber-se como estando na inteligência divina. […] Como tais, são eternas. (MORA, 2001, p. 351)

Portanto, o termo “ideia” é usado pelos filósofos e teólogos cristãos num sentido bem mais amplo do que o puramente teológico. “Os escolásticos abriram o caminho para vários usos do termo. Por um lado, o uso teológico anterior. Depois, um uso ontológico […], ademais, um uso gnosiológico, segundo o qual as ideias são princípios de conhecimento” (MORA, 2001, p. 351). No último caso, a questão amplamente debatida recaiu sobre se o homem conhece “pelas ideias”, ou conhece “as próprias ideias”.
“A única coisa que se parece poder assegurar é que, embora nos filósofos modernos encontremos diversos usos de ‘ideia’, predominou aparentemente o sentido de ‘ideia’ como ‘representação (mental)’ de uma coisa”. (MORA, 2001, p. 351)
No modernismo, ainda fortemente influenciado pela filosofia cristã (apesar de, em alguma medida, tentar atacá-la), os racionalistas acabam por considerar as ideias sob duas vertentes, uma como expressão mesma dos “conceitos do espírito”, e outra “as próprias coisas enquanto vistas” (MORA, 2001, p. 352). É justo ressaltar que a partir do momento em que se opta por reconhecer o caráter subjetivo das ideias, “as posições mantidas aproximaram-se das empiristas” (idem).
Como se vê, há um longo percurso (que ainda passa por Kant e Hegel, mas que não serão abordados neste artigo), até que a “problematização do conceito de ideia” – e daí a corroboração ou refutação do sentido de “ideia inata” – se delineie nas assertivas de David Hume (1711-1776) e Edmund Gettier (1927). Afinal, elas existem ou não, para estes dois pensadores?

HUME: HÁBITO COMO GUIA PARA A VIDA
O filósofo David Hume ganhou notoriedade ao lançar uma visão cética acerca da questão do conhecimento. Diferentemente do racionalismo, que via como indubitável a existência de “ideias inatas”, Hume apresenta uma forma particular de estudar a mente dividindo-a pelos seus conteúdos [mentais]. Assim, foram observados “dois tipos de fenômenos e, depois, perguntado como eles se relacionam um com o outro” (Vários autores, 2011, p. 150). Isso ocorre, notadamente, no “Ensaio sobre o entendimento humano”, na sessão II de que trata a origem das ideias. Este dois fenômenos são as impressões (sensações, percepções diretas, paixões) e as próprias ideias, “cópias pálidas das nossas impressões, tais como pensamentos, reflexões e imaginação” (Vários autores, 2011, p. 150).
A análise resultante desta distinção, em Hume, fez com que se começasse a questionar as crenças mais estimadas, não apenas no campo da lógica e da ciência, mas sobre a natureza mesma do mundo, o que acabou por provocar, à época, uma grande inquietação.
David Hume diz que é frequente ter ideias que não podem ser sustentadas por impressões, e é daí que surge a maior parte da confusão, pois de maneira geral se confunde os dois tipos de proposições indicadas pelo escocês, que são os raciocínios demonstrativos e os prováveis, com os tipos de conhecimento que eles expressam.
O raciocínio demonstrativo é aquele cuja verdade ou falsidade é autoevidente. Tome-se, por exemplo, o enunciado 2 + 2 = 4. Negar esse raciocínio envolve uma contradição lógica. Os raciocínios lógicos demonstrativos na lógica, na matemática e no raciocínio dedutivo são conhecidos por serem verdadeiros ou falsos a priori. Por outro lado, a verdade de um raciocínio provável não é autoevidente, pois diz respeito a questões empíricas de fato (Vários autores, 2011, p. 152 – grifo meu).
Desta forma, qualquer inferência sobre o mundo, como “José Eduardo está em Brasília”, é necessariamente um raciocínio provável (não demonstrativo), já que depende de uma evidência empírica para ser considerado verdadeiro ou falso. Deste pressuposto, pode-se inferir a natureza de todos os raciocínios, se são de ordem “demonstrativa” ou “provável”, e é desta teoria que surge o chamado dilema de Hume.

INDUÇÃO
Outro aspecto interessante nas “provocações” de David Hume diz respeito à capacidade humana de inferir as coisas a partir das experiências passadas, o chamado raciocínio indutivo. Ou seja, ao “observarmos um padrão constante, inferimos que ele vai continuar no futuro, assumindo tacitamente que a natureza continuará a se comportar de maneira uniforme”. (Vários autores, 2011, p. 152). A questão é saber se existe justificação para a natureza seguir o mesmo padrão. Em Hume, “alegar que o sol nascerá amanhã não é um raciocínio demonstrativo (porque alegar o oposto não envolve contradição lógica) nem um raciocínio provável, porque não podemos experimentar já o futuro nascer do sol” (Vários autores, 2011, p. 152).
Sendo assim, levando-se em conta que não se pode observar todos os eventos de causa e efeito, por não haver base racional para isso, nasce o conceito de “natureza humana”, que nada mais é do que “um hábito mental que interpreta uniformidade na repetição regular, assim como uma conexão causal naquilo que Hume chamou de ‘conjunção constante’ de eventos” (Vários autores, 2011, p. 152). Ou seja, por mais que o raciocínio indutivo instigue o investigador a interpretar as inferências com leis naturais (a base da ciência ou do conceito de “ideias inatas”, por exemplo), essa prática não pode ser considerada racional justamente porque esta crença não passa, no fundo, de
“uma ideia vívida relacionada ou associada com a impressão do presente, guiada pelo hábito, que está no cerne de nossas pretensões ao conhecimento, e não a razão”. (Vários autores, 2011, p. 153)
EDMUND GETTIER
Em Edmund Gettier, em seu famoso artigo “É a crença verdadeira justificada conhecimento?”, há alguns contraexemplos que colocam em xeque a definição tripartida de conhecimento, definição esta que influenciou o pensamento Ocidental desde a obra Teeteto, de Platão, para quem “a opinião verdadeira acompanhada de razão é conhecimento, e, desprovida de razão, a opinião está fora do conhecimento”4 . De acordo com as assertivas do americano, uma crença verdadeira justifica pode perfeitamente não ser conhecimento, uma vez que há caráter de insuficiência em sua abordagem. O conceito de “ideia inata” por evidência, nos racionalistas, sofre então outro revés.

Há nos contraexemplos de Gettier, no entanto, como pontua Da Costa (2011), não uma negação total do conhecimento, já que o “cético não é simplesmente aquele que duvida de tudo porque não quer crer em nada”, uma vez que “desde suas origens ainda na Grécia, buscaram não se comprometer com a dúvida universal a fim de não sucumbir à contradição intrínseca do dogmatismo negativo” (DA COSTA, 2011, p. 156). Gettier, desta forma, apresenta a “lacuna” que existe entre a definição tripartite e o conhecimento de fato, mas ao mesmo tempo – como parece ser comum no ceticismo – se preocupa para não cair na “contradição implicada na negação absoluta da possibilidade do conhecimento” (idem), sob o risco de, caso não observe tal premissa, acabe por enveredar na mesma seara do pirronismo, que defendia que
através da ideia de que a suspensão do juízo não é universal e que não representa mais do que o estado mental do cético no momento em que chega ao final da consideração das teses opostas sobre uma questão determinada. Ele [o cético] não afirma nada além de seu estado interior ao qual obedece passivamente, dada sua irresistibilidade (DA COSTA, 2011, p. 156).
Especificamente sobre a justificação, acreditava-se ser algo “sempre sólido e suficiente para garantir aquela conexão entre nossa razão e o verdadeiro que se julgava necessário para garantir o título de ‘conhecimento’ a uma opinião verdadeira”5. No entanto, Gettier mostra a falsidade dessa suposição.
Vale ressaltar, contudo, que “o cético não afirma sequer a verdade de suas conclusões, mas somente expressa sua situação suspensiva naquele momento” (DA COSTA, 2011, pág. 156), ou mesmo aponta para uma possibilidade de inconclusão em determinadas premissas, sob o risco de ser acusado, também, de dogmatismo.
O ceticismo não encara a si mesmo como uma escola filosófica. Se o fizesse, entraria no rol das doutrinas dogmáticas, ou seja, aquelas que afirmam como verdadeiras determinadas teses sobre o real e se enredaria nas discussões infindáveis entre escolas de pensamento. A tese da impossibilidade do conhecimento é autocontraditória, então nenhuma tese pode ser defendida pelo cético (DA COSTA, 2011, p. 157).
É interessante observar que não se pode confundir o ceticismo filosófico de que trata Hume e Gettier com o ceticismo científico, para se evitar que se tome “como cético todo o homem que adota para si e sobre as coisas uma postura crítica”. O cientista, ao abraçar uma atitude cética, “faz uso de metodologia específica para criticar conceitos estabelecidos ou fatos tais como se apresentam à investigação científica”.
A separação entre Ciência e Filosofia, no entanto, não é uma questão simples. O método científico, cujo fundamento bebeu de fontes primárias do pensamento universal, consideradas na Filosofia da Ciência, dizem, parece ter perdido muito com esse distanciamento. Questiona-se a divisão entre Ontologia (estudo da natureza do ser) e Epistemologia – afastando questões metafísicas das investigações – e o estabelecimento de certo cientificismo no desenvolvimento da própria Filosofia, influenciado pelo positivismo. Pensadores como Rousseau, Marx e o próprio Gramsci chegaram a mostrar que o avanço científico linear é insuficiente no auxílio à humanidade e seus problemas de toda ordem.6

COERENTISMO
O Coerentismo, cujos traços gerais defendem que “uma crença é justificada na medida em que ela é coerente com o conjunto de crenças anteriores a ela e disponível no momento de sua avaliação” (UCB – Teoria do Conhecimento7), parece apresentar-se como uma alternativa viável frente ao que poderia ser considerado como dois extremos na problemática da justificação do conhecimento, já que muitos teóricos estão divididos por um lado pelo presumido dogmatismo do Fundacionismo e, por outro lado, pelos ferrenhos adeptos do Pirronismo, para quem o ceticismo como postura crítica acaba por configurar-se, também, como dogmático, já que não apresenta uma visão de “suspensão de juízo” mas, antes, acaba por adotar uma postura de “negação” de certas proposituras.
Um aspecto interessante do Coerentismo é sua compatibilidade com o falibilismo, o que de certa forma cria um ponto de contato com o ceticismo de Hume e Gettier. Esta aproximação, no entanto, não pode se configurar em algo que justifica as questões dos dois filósofos, pois parece haver uma incompatibilidade entre o Coerentismo e o Empirismo.
Para o Coerentismo, “na ausência de pontos fixos seguros, e na falta de quaisquer indícios de onde dar início à revisão de nossas crenças, sabemos que o nosso conjunto de crenças é sempre provisório”7. É interessante destacar que, por este ponto de vista, o Coerentismo também se alinha em alguma medida – mas não completamente – com o ceticismo científico, já que “as revisões se tornarão necessárias, e a necessidade de revisão pode ocorrer em qualquer parte” (idem).
No entanto, vale destacar que ainda que caso se aceite que
A experiência é uma forma de crença, podemos continuar a insistir numa distinção entre crenças sensoriais e outras, e, assim, re-introduzir a questão da incompatibilidade entre empirismo e coerentismo, uma vez que as relações de apoio resultante dessa distinção seriam assimétricas. (UCB Virtual – Disciplina de Teoria do Conhecimento – aula 6, página 2)
Desta forma, há um desafio no Coerentismo, que se vê “na posição de manter que os conjuntos de crenças que não têm relação com a experiência de ninguém podem ter todas as características definidoras da coerência”7.
Mas ele só aceitaria isso se aceitasse a distinção entre crença e experiência; e esta distinção não é uma em que todas as partes estejam de acordo. Desde que sustentemos com Kant que toda a experiência é uma forma de cognição ou juízo (i.e., aquisição de crença) em vez de uma forma de sensação, podemos construir uma forma de coerentismo que não tenha complicações com o argumento. Se um coerentista requer para a justificação que todos os elementos cognitivos estejam interligados, há a possibilidade de que as crenças totalmente desligadas da experiência sensorial possam continuar a contar como justificadas, desde que consideremos a experiência como crença cognitiva. (UCB Virtual – Disciplina de Teoria do Conhecimento – aula 6, página 2)

Em Hume, apesar de haver a negação das “ideias inatas”, há um esforço para reconhecer que, “embora as inferências indutivas não sejam demonstráveis, isso não significa que sejam inúteis” (Vários autores, 2011, p. 153). Afinal, ainda existem as pretensões razoáveis para supor que as coisas aconteçam (como a alvorada, depois da noite), julgando a partir da experiência e da observação passada. Hume adverte, no entanto, que “antes de inferir causa e efeito entre dois acontecimentos, devemos ter evidências de que essa sucessão de acontecimentos tenha sido invariável no passado e de que há uma conexão necessária entre eles” (Vários autores, 2011, p. 153). Desta forma, o “hábito mental” deve ser aplicado com precaução.
Os contraexemplos de Gettier também contestam a definição tradicional de conhecimento (e, dentre elas, presume-se, a premissa das “ideias inatas” do racionalismo) ao não reforçar a definição tripartida, mostrando a sua insuficiência. No entanto, neste movimento, acaba por gerar uma “onda” investigativa que, ao fim, faz por reforçar o sentido de aperfeiçoamento do conceito de conhecimento (e mesmo o conceito de ideia inata), ao revisar mesmo sua dinâmica argumentativa. “Resolver o problema de Gettier passa a andar de mãos dadas com a reforma da noção de justificação”5.

Em súmula, em Hume poderia se dizer que há uma negação tácita das “ideias inatas”, enquanto que em Gettier há a suposição de que tal crença carece de sustentação adequada. Nos dois casos, explícita ou implicitamente, não existe justificativa racional para a existência de “ideias inatas”, e o Coerentismo, mesmo não se configurando como uma postura que se opõe frontalmente à visão destes dois pensadores, acaba por não se enquadrar numa forma de justificação de conhecimento, já que “o coerentista pode encontrar um espaço epistemológico promissor de investigação a partir da possibilidade de conjugação com perspectivas empíricas” (UCB Virtual – Disciplina de Teoria do Conhecimento – aula 6, página 4). Assim,
O falibilismo [coerentista] não é um defeito infeliz, mas uma parte essencial da empresa epistemológica, o impulso de rever continuamente em busca de uma maior coerência. (UCB Virtual – Disciplina de Teoria do Conhecimento – aula 6, página 1)
Notas:
¹ – Racionalismo pode ser abordado em dois sentidos: no sentido lato e corrente, o racionalismo exprime certa confiança na razão; é pensar que ela pode e deve compreender tudo, pelo menos de direito. No segundo sentido, o racionalismo que a doutrina que defende a razão como algo que independe a experiência, porque seria inata ou a priori, logo, é uma concepção totalmente contrária ao empirismo. (COMTE-SPONVILLE, 2011, p. 500)
2– Empirismo é um termo que deriva do grego e que pode ser entendido como “experiência”. Ainda assim, trata-se de uma palavra com muitos significados. Não obstante, se destacam dois (significados): a existência como informação proporcionada pelos órgãos dos sentidos, e a experiência como o que depois viria a ser chamada de “vivência”, isto é, o conjunto de sentimentos, afetos, emoções, etc., que um indivíduo humano experimenta e que se vão acumulando em sua memória, de modo que aquele que dispõe de uma boa dose desses sentimentos, emoções, etc. é considerado “uma pessoa com experiência” (MORA, 2001, p. 205).
³- Teoria geral do conhecimento humano, voltada para uma reflexão em torno da origem, natureza e limites do ato cognitivo, freq. apontando suas distorções e condicionamentos subjetivos, em um ponto de vista tendente ao idealismo, ou sua precisão e veracidade objetivas, em uma perspectiva realista; gnosiologia, teoria do conhecimento cf. epistemologia. Disponível em Dicionário Houaiss <http://houaiss.uol.com.br/busca?palavra=gnosiologia > acessado em 19/04/2014.
4– Parte do diálogo platônico “Teeteto” – tradução de Carlos Alberto Nunes. Disponível emhttp://www.cfh.ufsc.br/~wfil/teeteto.pdf – Acessado em 16/04/2014.
5– UCB Virtual – Disciplina de Teoria do Conhecimento – aula 3, disponível com senha emhttp://moodle2.catolicavirtual.br/course/view.php?id=21652 – acessado em 19/04/2014.
6 – Trecho da matéria “A evolução do pensamento Cético”, publicada na Revista Filosofia Ciência & Vida – Disponível em http://portalcienciaevida.uol.com.br/ESFI/Edicoes/22/imprime87204.asp – Acesso em 21/01/2014.
7– UCB Virtual – Disciplina de Teoria do Conhecimento – aula 6, página 1, disponível com senha em http://moodle2.catolicavirtual.br/course/view.php?id=21652 – acessado em 02/06/2014.
Referências:
COMTE-SPONVILLE, André.Dicionário Filosófico. São Paulo: WMF, 2011.
MORA, José Ferrater. Dicionário de Filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 2001.
O Livro da Filosofia (Vários autores) / [tradução Douglas Kim]. – São Paulo: Globo, 2011.
Ensaios Sobre o Ceticismo/ [organizados por SMITH, PLINIO JUNQUEIRA; SILVA FILHO, WALDOMIRO J.]. – São Paulo: Alameda, 2007.
PIVA, Paulo Jonas de Lima. A evolução do pensamento Cético – artigo publicado na Revista Filosofia Ciência & Vida – Disponível emhttp://portalcienciaevida.uol.com.br/ESFI/Edicoes/22/imprime87204.asp – Acessado em 21/01/2014.
SAFRANSKI, Rüdiger. Schopenhauer e os anos mais selvagens da filosofia; tradução William Lagos. — São Paulo: Geração Editorial, 2012.
HUME, David. Ensaio sobre o entendimento humano. Material disponível com senha emhttp://moodle2.catolicavirtual.br/pluginfile.php/677868/mod_resource/content/1/Ensaio_sobre_o_entendimento_humano_HUME.pdf– Acessado em 18/04/2014.
GETTIER, Edmund. É a Crença Verdadeira Justificada Conhecimento?. Material disponível emhttp://criticanarede.com/epi_gettier.html – Acessado em 20/03/2014.
DA COSTA, Rogério Soares. O Problema de Gettier e o Ceticismo (tese como requisito de doutoramente, publicado em 2011, na PUC-RIO). Disponível emhttp://www.maxwell.lambda.ele.puc-rio.br/17904/17904_1.PDF – Acessado em 15/04/2014.